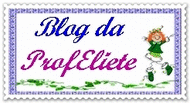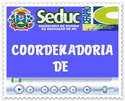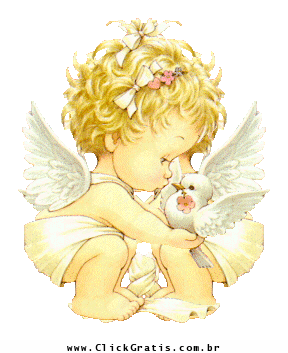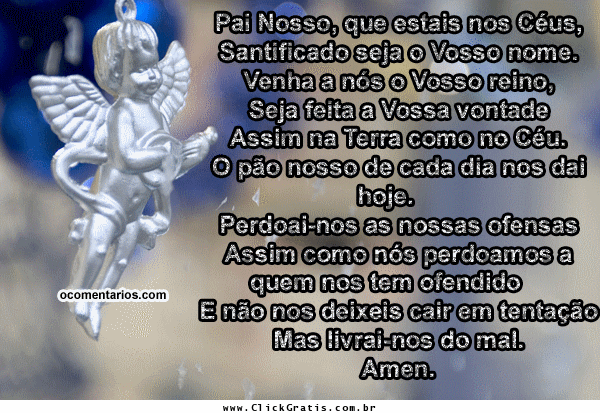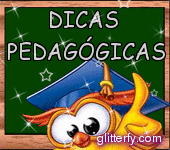domingo, 30 de outubro de 2016
DICAS PARA ESCREVER MELHOR
16:36
Ler mais, praticar a escrita, ter atenção e usar da criatividade são algumas das dicas para escrever da melhor maneira.
A palavra redação até parece um carma para alguns alunos, isso se deve ao fato de que no Brasil o exercício da leitura não é um hábito.
Uma pesquisa feita pelo Fecomércio RJ/Ipsos em 2015, aponta uma queda no número de pessoas que declaram ter o costume de ler, antes os dados mostravam 35%, agora passou para cerca de 30% de leitores.
Pensando nessa dificuldade no hábito de ler e consequentemente em escrever, o Estudo Prático traz 10 dicas de como você poe melhorar a escrita e se dar bem nas redações dos vestibulares.
Confira outras dicas aqui:
- 1. UMA CRIANÇA QUE LÊ SERÁ UM ADULTO QUE PENSA!
- 2. Dicas para estimular o interesse pela literatura nas crianças
- 3. KIT FAMILIAR PARA REUNIÃO DE PAIS
- 4. UMA REALIDADE - CARTILHA SOBRE O AUTISMO
- 5. Algumas estratégias Pedagógicas para alunos com TDAH
- 6. Dicas para auxiliar seu filho nas tarefas de casa
No final do post deixarei uma lista com mais de 40 dicas, espero que gostem.
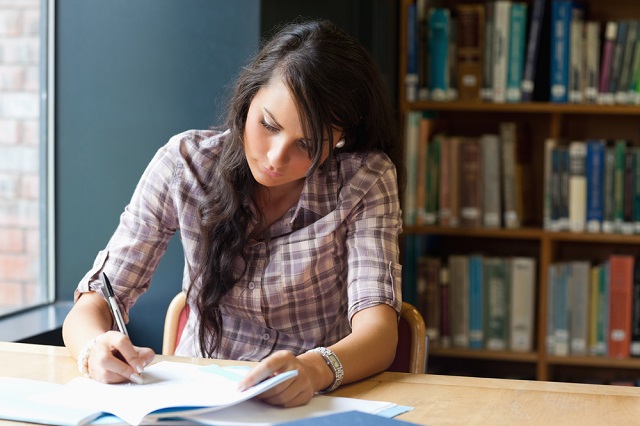 |
| Dicas para escrever melhor |
10 dicas para melhorar a escrita
1. Ler mais
A primeira dica não poderia ser outra! Ler contribui para abrir um leque de palavras novas no seu vocabulário e ainda ensina diversas formas de se construir um bom texto.
Por essa razão, não abra mão dessa técnica e invista na leitura, seja ela de livros literários ou técnicos, revistas de entretenimento, jornais etc.
Ler também te deixa informado, outro ponto imprescindível para fazer uma boa redação.
2. Pratique a escrita
Quando se deseja ser bom em determinadas atividades é necessário se dedicar a elas. A repetição constrói uma intimidade entre a prática e você, por isso treine a sua escrita frequentemente.
Uma dica é começar a fazer textos sobre assuntos que você gosta de escrever ou que tenha empatia com os temas. Na realidade a ideia dessa técnica é fazer você achar prazeroso escrever, assim o conteúdo fica mais segue com mais fluidez.
3. Usar a internet ao seu favor
Vc sabe q essa forma de escrever tá fora dos padrões das redações?
A forma como se comunica nas redes sociais só deve ser usada especificamente nelas. Em um documento sério como as redações de vestibulares se você escrever o ‘tá’ no lugar do ‘está’, a qualidade do texto vai cair muito.
Nos textos avaliativos a linguagem formal é exigida e caso gírias ou abreviações apareçam a nota vai baixando. Sendo assim, use a internet ao seu favor!
Uma maneira de não errar é escrevendo corretamente via rede, assim o costume de digitar bem vai parar nos cadernos dos vestibulares.
4. Escolha as melhores palavras e não as mais difíceis
Muita gente acha que escrever bem é escrever palavras difíceis. Pelo contrário, um bom texto não precisa de enfeites, mas sim de conteúdo informativo. Dados, exemplos, citações, se em quantidades certas e sem exageros fazem sua redação ser vista com bons olhos e com interesse.
Outra fato deve ser levado em consideração, a escrita das palavras, caso você não saiba como escrevê-la pense em um sinônimo, mesmo que este seja mais simples. Lembre-se é melhor ter um texto simples a um errado!
5. Objetividade na escrita
É terrível ler um texto onde o autor enrola até chegar no assunto principal, as vezes é preciso ler mais de uma vez para compreender o que realmente ele quis dizer.
Para cumprir com essa dica é interessante saber a quantidade certa de citações e exemplos, eles podem enriquecer o seu texto, mas se usados demasiadamente dão a impressão de que o autor não tem propriedade no assunto e quer suprir essa falta com esses métodos.
6. Cuidado com as repetições
Tem algo mais chato do que ler uma mesma palavra diversas vezes em um só parágrafo ou texto? Apesar de tedioso, ainda há quem cometa esse erro! Para fugir das repetições, procure pelo sinônimo dessas palavras.
7. Use a criatividade
Textos criativos são sempre bem-vindos, pois conseguem prender a atenção do leitor do início ao fim do texto, causando uma ótima impressão sobre o autor.
Apenas cuidado para não extrapolar e perder o real sentido das redações, o foco deverá ser sempre a informação, passada de forma concisa e clara.
8. Atenção com os pontos e as vírgulas
Há quem crie um texto e, mesmo focado nas ideias, esquecem das pontuações. Não adianta produzir uma redação informativa, com dados, exemplos e citações na medida e não usar corretamente o ponto e a vírgula.
Sem essas estruturas os leitores podem achar cansativo o seu trabalho e pior, as frases podem perder o real sentindo.
9. Cuidado com palavras estrangeiras
Existem termos no inglês, por exemplo, que já possui um traduzido em português. Sendo assim, não há necessidade de usar as palavras em inglês, opte sempre pelas palavras da língua portuguesa.
10. Leia o texto várias vezes
Muitas vezes só é possível encontrar os erros lendo o texto várias vezes. Essa técnica é importante pois dá a oportunidade do escritor corrigir algumas falhas.
Por isso, antes de entregar o material finalizado leia o conteúdo com calma e com muita atenção e corrija sempre que se fizer necessário.
Espero que você tenha gostado das Dicas, este post foi retirado do r7.com, a fonte eu deixo a seguir, não deixe de compartilhar com seus amigos nas redes sociais, assim mais gente pode ver e se beneficiar, afinal, nós queremos ajudar cada vez mais pessoas.
COMO TRABALHAR PRODUÇÃO DE TEXTO
16:30
 |
| Como trabalhar Produção de Texto |
A Produção de textos por si só, não faz com que o aluno evolua no seu processo de criação, mas sim a qualidade de intervenção que lhe é dada.
Atualmente vejo muitas profissionais trabalhando Produção de Texto oferecendo condições para que o aluno produza dentro de um gênero.
SUGESTÕES DE REGISTRO PARA PRODUÇÃO DE TEXTOS
A análise da escrita deve acontecer tanto por parte dos alunos,quanto principalmente dos professores, pois é através da avaliação que o professor faz da produção de cada aluno que ele traçará metas e estratégias a serem desenvolvidas com o aluno/turma.
REGISTRO PARA O ALUNO
É muito bom que o aluno possa avaliar a sua produção de texto, descobrindo por si mesmo o que pode ser melhorado. Por isso segue abaixo uma sugestão de ficha de avaliação de texto que pode ser ampliada e modificada de acordo com o texto produzido e a turma em questão.
AVALIANDO MINHA PRODUÇÃO
1. Coloquei título ?
2. O título está adequado ao texto?
3. Os parágrafos estão alinhados?
4. Minha produção está com um bom aspecto?
5. A letra está legível?
6. O tipo de texto que usei está de acordo com a proposta?
7. Usei a estrutura correta para esse tipo de texto?
8. Usei os sinais de pontuação adequados?
9. Fiz a correção da ortografia?
10.As frases estão claras?
11. O texto apresenta seqüência lógica (início, meio e fim)?
Essa ficha pode ser feita, uma para cada aluno, como empréstimo, para que ele possa consultar e avaliar sua produção (colar em cartolina). O professor também pode utilizá-la para avaliar as produções dos alunos e assim, ter dados para tabular as dificuldades que cada aluno encontrou ao realizar a produção.
FICHA DE VERIFICAÇÃO – PRODUÇÃO DE TEXTOS
Esse é mais um recurso que o professor deverá utilizar para tabular e detectaras dificuldades encontradas na produção de textos dos alunos. Detectados os problemas, o professor buscará estratégias, como a revisão coletiva ou individual dos textos, para aprimorar a escrita.
Essa ficha também é um modelo para o professor e pode ser modificada de acordo com a necessidade e perfil da turma.
 |
| Como trabalhar Produção de Texto |
TRATAMENTO DIDÁTICO
Abaixo,estão relacionados alguns procedimentos didáticos para implementar uma prática continuada de produção de textos na escola:
· oferecer textos escritos impressos de boa qualidade, por meio da leitura (quando os alunos ainda não lêem com independência, isso se torna possível mediante leituras de textos realizadas pelo professor, o que precisa, também,ser uma prática continuada e frequente); São esses textos que podem se converter em referências de escrita para os alunos;(Na biblioteca iremos conseguir um acervo de livros literários, mas podemos pedir aos alunos que tragam de casa outros tipos de textos: informativos,instrucionais, entre outros. Podemos também oferecer aos alunos diferentes tipos de textos nas atividades xerocadas).
· solicitar aos alunos que produzam textos muito antes de saberem grafá-los. Ditar para o professor, para um colega que já saiba escrever ou para ser gravado para ser ver em um vídeo é uma forma de viabilizar isso. Quando ainda não se sabe escrever, ouvir alguém lendo o texto que produziu é uma experiência importante;(É um bom trabalho para ser realizado na Ed. Infantil).
· propor situações de produção de textos, em pequenos grupos, nas quais os alunos compartilhem as atividades, embora realizando diferentes tarefa s: produzir propriamente, grafar e revisar. Essa é uma estratégia didática bastante produtiva porque permite que as dificuldades inerentes à exigência de coordenar muitos aspectos ao mesmo tempo sejam divididas entre os alunos. Eles podem, momentaneamente, dedicar-se a uma tarefa mais específica enquanto os outros cuidam das demais.São situações em que um aluno produz e dita a outro, que escreve, enquanto um terceiro revisa, por exemplo. Experimentando esses diferentes papéis enunciativos, envolvendo-se com cada um, a cada vez, numa atividade colaborativa, podem ir construindo sua competência para mais tarde realizar sozinhos todos os procedimentos envolvidos numa produção de textos.(A Oficina de textos é um trabalho muito rico. Antes do professor corrigir o texto que o aluno produziu, os colegas irão ler o texto, um dos outros e sugerir para o autor a correção necessária.Assim, discutindo, eles farão a revisão do texto e estarão em contato com diferentes formas de escrever – isso é um grande aprendizado. Peçam aos alunos que assinem o nome nas produções que leram. Depois desse trabalho de revisão, em diferentes duplas, o professor corrige o texto do aluno, utilizando os critérios de correção apresentados a seguir e o aluno irá redigi-lo fazendo as correções necessárias. A apresentação da sua produção para a apreciação é uma estratégia importante tanto para o aluno que apresenta, quanto para os alunos que são a platéia.Acredito que esse é um trabalho completo de produção de texto, mas que deve ser desenvolvido nas turmas que já construíram a base alfabética da escrita; caso contrário, não estaremos respeitando o processo de aquisição da leitura/escrita).
SITUAÇÕES DE CRIAÇÃO
Quando se pretende formar escritores competentes, é preciso também oferecer condições de os alunos criarem seus próprios textos e de avaliarem o percurso criador. Evidentemente, isso só se torna possível se tiverem constituído um amplo repertório de modelos, que lhes permita recriar, criar, recriar as próprias criações. É importante que nunca perca de vista que não há como criar do nada: é preciso ter boas referências.Por isso, formar bons escritores depende não só de uma prática continuada de produção de textos, mas de uma prática constante de leitura.(A leitura é imprescindível para a escrita, tanto no seu aspecto notacional quanto no funcionamento da linguagem).
Uma forma de trabalhar a criação de textos são as oficinas ou ateliês de produção, (como já foi especificado anteriormente). Uma oficina é uma situação didática onde a proposta é que os alunos produzam textos tendo à disposição diferentes materiais de consulta, em função do que vão produzir.
A possibilidade de avaliar o percurso criador é importante para a tomada de consciência das questões envolvidas no processo de produção de textos.Isso é algo que depende de o professor fazer com que os alunos exponham suas preferências, dificuldades ou as alternativas escolhidas e abandonadas. Esse trabalho de explicitação permite que, com o tempo, os procedimentos de análise propostos pelo professor se incorporem à prática de reflexão do aluno, favorecendo um controle maior sobre seu processo criador. Uma contribuição importante é conhecer o processo criador de outros autores, seja por meio de um contato direto, seja por meio de textos por eles escritos sobre o tema ou de vídeos, entrevistas,etc.
Finalmente,é importante destacar que nem todos os conteúdos são possíveis de serem trabalhados por meio de propostas que contextualizem a escrita de textos: às vezes, é preciso escrever unicamente para aprender.O importante, de qualquer forma, é dar sentido às atividades de escrita.
Por outro lado, considerar o texto como unidade básica do ensino de Língua Portuguesa não significa que, eventualmente, não seja necessário analisar unidades como as palavras e até mesmo as sílabas.
Produção de texto: como ensinar os alunos a escrever de verdade.
Para produzir textos de qualidade, seus alunos têm de saber o que querem dizer, para quem escrevem e qual é o gênero que melhor exprime essas ideias. A chave é ler muito e revisar continuamente.
Narração, descrição e dissertação. Por muito tempo, esses três tipos de texto reinaram absolutos nas propostas de escrita. Consenso entre professores, essa maneira de ensinar a escrever foi uma das principais responsáveis pela falta de proficiência entre nossos estudantes. O trabalho baseado nas famosas composições e redações escolares tem uma fragilidade essencial: ele não garante o conhecimento necessário para produzir os textos que os alunos terão de escrever ao longo da vida. "Nessa abordagem, ninguém considerava quem seriam os leitores. Não havia a reflexão sobre a melhor estratégia para colocar uma ideia no papel", resume Telma Ferraz Leal, da Universidade Federal de Pernambuco.
Para aproximar a produção escrita das necessidades enfrentadas no dia-a-dia, o caminho atual é enfocar o desenvolvimento dos comportamentos leitores e escritores. Ou seja: levar a criança a participar de forma eficiente de atividades da vida social que envolvam ler e escrever. Noticiar um fato num jornal, ensinar os passos para fazer uma sobremesa ou argumentar para conseguir que um problema seja resolvido por um órgão público: cada uma dessas ações envolve um tipo de texto com uma finalidade, um suporte e um meio de veiculação específicos. Conhecer esses aspectos é condição mínima para decidir, enfim, o que escrever e de que forma fazer isso. Fica evidente que não são apenas as questões gramaticais ou notacionais (a ortografia, por exemplo) que ocupam o centro das atenções na construção da escrita, mas a maneira de elaborar o discurso.
Há outro ponto fundamental nessa transformação das atividades de produção de texto: quem vai ler. E, nesse caso, você não conta. "Entregar um texto para o professor é cumprir tarefa", argumenta Fernanda Liberali, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. "Escrever não é fácil. Para que o aluno fique estimulado com a proposta, é preciso que veja sentido nisso." O objetivo é fazer com que um leitor ausente no momento da produção compreenda o que se quis comunicar - e esse desafio requer diferentes aprendizagens.
O primeiro passo é conhecer os diversos gêneros. Mas é preciso atenção: isso não significa que os recursos discursivos, textuais e linguísticos dos contos de fadas e da reportagem, por exemplo, sejam conteúdos a apresentar aos alunos sem que eles os tenham identificado pela leitura, como ressalta Delia Lerner no livro Ler e Escrever na Escola. Um primeiro risco é o de cair na tentação de transmitir verbalmente as diferentes estruturas textuais. De acordo com a pesquisadora em didática, cabe a todo professor permitir que as crianças adquiram os comportamentos do leitor e do escritor pela participação em situações práticas e não "por meras verbalizações".
Ensinar a produzir textos nessa perspectiva prevê abordar três aspectos principais: a construção das condições didáticas, a revisão e a criação de um percurso de autoria, como se pode ver a seguir.
O primeiro passo é conhecer os diversos gêneros. Mas é preciso atenção: isso não significa que os recursos discursivos, textuais e linguísticos dos contos de fadas e da reportagem, por exemplo, sejam conteúdos a apresentar aos alunos sem que eles os tenham identificado pela leitura, como ressalta Delia Lerner no livro Ler e Escrever na Escola. Um primeiro risco é o de cair na tentação de transmitir verbalmente as diferentes estruturas textuais. De acordo com a pesquisadora em didática, cabe a todo professor permitir que as crianças adquiram os comportamentos do leitor e do escritor pela participação em situações práticas e não "por meras verbalizações".
Ensinar a produzir textos nessa perspectiva prevê abordar três aspectos principais: a construção das condições didáticas, a revisão e a criação de um percurso de autoria, como se pode ver a seguir.
Os textos redigidos em classe precisam de um destinatário
"Escreva um texto sobre a primavera." Quem se depara com uma proposta como essa imediatamente deveria se fazer algumas perguntas. Para quê? Que tipo de escrita será essa? Quem vai lê-la? Certas informações precisam estar claras para que se saiba por onde começar um texto e se possa avaliar se ele condiz com o que foi pedido. Nas pesquisas didáticas de práticas de linguagem, essas delimitações denominam-se condições didáticas de produção textual. No que se refere ao exemplo citado, fica difícil responder às perguntas, já que esse tipo de redação não existe fora da escola, ou seja, não faz parte de nenhum gênero.
De acordo com Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz, o trabalho com um gênero em sala de aula é o resultado de uma decisão didática que visa proporcionar ao aluno conhecê-lo melhor, apreciá-lo ou compreendê-lo para que ele se torne capaz de produzi-lo na escola ou fora dela. No artigo Os Gêneros Escolares - Das Práticas de Linguagem aos Objetos de Ensino, os pesquisadores suíços citam ainda como objetivo desse trabalho desenvolver capacidades transferíveis para outros gêneros.
Para que a criança possa encontrar soluções para sua produção, ela precisa ter um amplo repertório de leituras. Essa possibilidade foi dada à turma de 9º ano da professora Maria Teresa Tedesco, do Centro de Educação e Humanidades Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - conhecido como Colégio de Aplicação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Procurando desenvolver a leitura crítica de textos jornalísticos e o conhecimento das estruturas argumentativas na produção textual, ela propôs uma atividade permanente: a cada semana, um grupo elegia uma notícia e expunha à turma a forma como ela tinha sido tratada nos jornais. Depois, seguia-se um debate sobre o tema ou a maneira como as reportagens tinham sido veiculadas.
Paralelamente, os estudantes tiveram contato com textos de finalidades comunicativas diversas no jornal, como cartas de leitores, editoriais, artigos opinativos e horóscopo. "O objetivo era que eles analisassem os materiais, refletissem sobre os propósitos de cada um e adquirissem um repertório discursivo e linguístico", conta Maria Teresa, que lançou um desafio: produzir um jornal mural.
De acordo com Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz, o trabalho com um gênero em sala de aula é o resultado de uma decisão didática que visa proporcionar ao aluno conhecê-lo melhor, apreciá-lo ou compreendê-lo para que ele se torne capaz de produzi-lo na escola ou fora dela. No artigo Os Gêneros Escolares - Das Práticas de Linguagem aos Objetos de Ensino, os pesquisadores suíços citam ainda como objetivo desse trabalho desenvolver capacidades transferíveis para outros gêneros.
Para que a criança possa encontrar soluções para sua produção, ela precisa ter um amplo repertório de leituras. Essa possibilidade foi dada à turma de 9º ano da professora Maria Teresa Tedesco, do Centro de Educação e Humanidades Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - conhecido como Colégio de Aplicação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Procurando desenvolver a leitura crítica de textos jornalísticos e o conhecimento das estruturas argumentativas na produção textual, ela propôs uma atividade permanente: a cada semana, um grupo elegia uma notícia e expunha à turma a forma como ela tinha sido tratada nos jornais. Depois, seguia-se um debate sobre o tema ou a maneira como as reportagens tinham sido veiculadas.
Paralelamente, os estudantes tiveram contato com textos de finalidades comunicativas diversas no jornal, como cartas de leitores, editoriais, artigos opinativos e horóscopo. "O objetivo era que eles analisassem os materiais, refletissem sobre os propósitos de cada um e adquirissem um repertório discursivo e linguístico", conta Maria Teresa, que lançou um desafio: produzir um jornal mural.
A proposta era trabalhar com textos opinativos, como os editoriais. Para que a escrita ganhasse sentido, ela avisou que o jornal seria afixado no corredor e que toda a comunidade escolar teria acesso a ele. Os assuntos escolhidos tratavam das principais notícias do momento, como o surto de dengue no Rio de Janeiro e a discussão sobre a maioridade penal. Com as características do gênero já discutidas e frescas na memória, todos passaram à produção individual.
A primeira versão foi lida pela professora. "Sempre havia observações a fazer, mas eu deixava que os próprios meninos ajudassem a identificar as fragilidades", diz Maria Teresa. Divididos em pequenos grupos, os alunos revisaram a produção de um colega, escrevendo um bilhete para o autor com sugestões e avaliando se ela estava adequada para publicação. Eram comuns comentários como "argumento fraco", "pouco claro" e "falta conclusão", demonstrando o repertório adquirido com a leitura dos modelos.
"Envolver estudantes de 6º a 9º ano na produção textual é um grande desafio", ressalta Roxane Rojo, da Universidade Estadual de Campinas. "Muitas vezes, eles tiveram de produzir textos sem função comunicativa durante a escolaridade inicial e, por acreditarem que escrever é uma chatice, são mais resistentes." Atenta, Maria Teresa soube driblar esse problema. Percebendo que a turma andava inquieta com a proibição por parte da direção do uso de short entre as meninas, a professora fez disso tema de um editorial do jornal mural - a produção foi uma das melhores propostas do projeto.
"Para que alguém se coloque na posição de escritor, é preciso que sua produção tenha circulação garantida e leitores de verdade", diz Roxane. E todos saberiam a opinião do aluno sobre a questão, inclusive a diretoria. "Só assim ele assume responsabilidade pela comunicação de seu pensamento e se coloca na posição do leitor, antecipando como ele vai interpretá- lo." A argumentação da garotada foi tão bem estruturada que a diretoria resolveu voltar atrás e liberar mais uma vez o uso da roupa entre as garotas.
A criação de condições didáticas nas propostas para as turmas de 1º a 5º ano segue os mesmos preceitos utilizados pela professora Maria Teresa. "Em qualquer série, como na vida, produzir um texto é resolver um problema", ensina Telma Ferraz Leal. "Mas para isso é preciso compreender quais são os elementos principais desse problema."
A primeira versão foi lida pela professora. "Sempre havia observações a fazer, mas eu deixava que os próprios meninos ajudassem a identificar as fragilidades", diz Maria Teresa. Divididos em pequenos grupos, os alunos revisaram a produção de um colega, escrevendo um bilhete para o autor com sugestões e avaliando se ela estava adequada para publicação. Eram comuns comentários como "argumento fraco", "pouco claro" e "falta conclusão", demonstrando o repertório adquirido com a leitura dos modelos.
"Envolver estudantes de 6º a 9º ano na produção textual é um grande desafio", ressalta Roxane Rojo, da Universidade Estadual de Campinas. "Muitas vezes, eles tiveram de produzir textos sem função comunicativa durante a escolaridade inicial e, por acreditarem que escrever é uma chatice, são mais resistentes." Atenta, Maria Teresa soube driblar esse problema. Percebendo que a turma andava inquieta com a proibição por parte da direção do uso de short entre as meninas, a professora fez disso tema de um editorial do jornal mural - a produção foi uma das melhores propostas do projeto.
"Para que alguém se coloque na posição de escritor, é preciso que sua produção tenha circulação garantida e leitores de verdade", diz Roxane. E todos saberiam a opinião do aluno sobre a questão, inclusive a diretoria. "Só assim ele assume responsabilidade pela comunicação de seu pensamento e se coloca na posição do leitor, antecipando como ele vai interpretá- lo." A argumentação da garotada foi tão bem estruturada que a diretoria resolveu voltar atrás e liberar mais uma vez o uso da roupa entre as garotas.
A criação de condições didáticas nas propostas para as turmas de 1º a 5º ano segue os mesmos preceitos utilizados pela professora Maria Teresa. "Em qualquer série, como na vida, produzir um texto é resolver um problema", ensina Telma Ferraz Leal. "Mas para isso é preciso compreender quais são os elementos principais desse problema."
Revisão vai além da ortografia e foca os propósitos do texto
Produzir textos é um processo que envolve diferentes etapas: planejar, escrever, revisar e re-escrever. Esses comportamentos escritores são os conteúdos fundamentais da produção escrita. A revisão não consiste em corrigir apenas erros ortográficos e gramaticais, como se fazia antes, mas cuidar para que o texto cumpra sua finalidade comunicativa. "Deve-se olhar para a produção dos estudantes e identificar o que provoca estranhamento no leitor dentro dos usos sociais que ela terá", explica Fernanda Liberali.
Com a ajuda do professor, as turmas aprendem a analisar se ideias e recursos utilizados foram eficazes e de que forma o material pode ser melhorado. A sala de 3º ano de Ana Clara Bin, na Escola da Vila, em São Paulo, avançou muito com um trabalho sistemático de revisão. Por um semestre, todos se dedicaram a um projeto sobre a história das famílias, que culminou na publicação de um livro, distribuído também para os pais. Dentro desse contexto, Ana Clara propôs a leitura de contos em que escritores narram histórias da própria infância.
Os estudantes se envolveram na reescrita de um dos contos, narrado em primeira pessoa. Eles tiveram de re-escrevê- lo na perspectiva de um observador - ou seja, em terceira pessoa. A segunda missão foi ainda mais desafiadora: contar uma história da infância dos pais. Para isso, cada um entrevistou familiares, anotou as informações colhidas em forma de tópicos e colocou tudo no papel.
Ana Clara leu os trabalhos e elegeu alguns pontos para discutir. "O mais comum era encontrar só o relato de um fato", diz. "Recorremos, então, aos contos lidos para saber que informações e detalhes tornavam a história interessante e como organizá-los para dar emoção." Cada um releu seu conto, realizou outra entrevista com o parente-personagem e produziu uma segunda versão.
Tiveram início aí diferentes formas de revisão - análise coletiva de uma produção no quadro-negro, revisão individual com base em discussões com o grupo e revisões em duplas - realizadas dias depois para que houvesse distanciamento em relação ao trabalho. A primeira proposta foi a "revisão de ouvido". Para realizá-la, Ana Clara leu em voz alta um dos contos para a turma, que identificou a omissão de palavras e informações. A professora selecionou alguns aspectos a enfocar na revisão: ortografia, gramática e pontuação. "Não é possível abordar de uma só vez todos os problemas que surgem", completa Telma.
Com a ajuda do professor, as turmas aprendem a analisar se ideias e recursos utilizados foram eficazes e de que forma o material pode ser melhorado. A sala de 3º ano de Ana Clara Bin, na Escola da Vila, em São Paulo, avançou muito com um trabalho sistemático de revisão. Por um semestre, todos se dedicaram a um projeto sobre a história das famílias, que culminou na publicação de um livro, distribuído também para os pais. Dentro desse contexto, Ana Clara propôs a leitura de contos em que escritores narram histórias da própria infância.
Os estudantes se envolveram na reescrita de um dos contos, narrado em primeira pessoa. Eles tiveram de re-escrevê- lo na perspectiva de um observador - ou seja, em terceira pessoa. A segunda missão foi ainda mais desafiadora: contar uma história da infância dos pais. Para isso, cada um entrevistou familiares, anotou as informações colhidas em forma de tópicos e colocou tudo no papel.
Ana Clara leu os trabalhos e elegeu alguns pontos para discutir. "O mais comum era encontrar só o relato de um fato", diz. "Recorremos, então, aos contos lidos para saber que informações e detalhes tornavam a história interessante e como organizá-los para dar emoção." Cada um releu seu conto, realizou outra entrevista com o parente-personagem e produziu uma segunda versão.
Tiveram início aí diferentes formas de revisão - análise coletiva de uma produção no quadro-negro, revisão individual com base em discussões com o grupo e revisões em duplas - realizadas dias depois para que houvesse distanciamento em relação ao trabalho. A primeira proposta foi a "revisão de ouvido". Para realizá-la, Ana Clara leu em voz alta um dos contos para a turma, que identificou a omissão de palavras e informações. A professora selecionou alguns aspectos a enfocar na revisão: ortografia, gramática e pontuação. "Não é possível abordar de uma só vez todos os problemas que surgem", completa Telma.
Quando a classe de Ana Clara se dividiu em duplas, um de seus propósitos era que uns dessem sugestões aos outros. A pesquisadora argentina em didática Mirta Castedo é defensora desse tipo de proposta. Para ela, as situações de revisão em grupo desenvolvem a ref lexão sobre o que foi produzido por meio justamente da troca de opiniões e críticas. "Revisar o que os colegas fazem é interessante, pois o aluno se coloca no lugar de leitor", emenda Telma. "Quando volta para a própria produção e faz a revisão, a criança tem mais condições de criar distanciamento dela e enxergar fragilidades."
Um escritor proficiente, no entanto, não faz a revisão só no fim do trabalho. Durante a escrita, é comum reler o trecho já produzido e verificar se ele está adequado aos objetivos e às ideias que tinha intenção de comunicar - só então planeja- se a continuação. E isso é feito por todo escritor profissional.
A revisão em processo e a final são passos fundamentais para conseguir de fato uma boa escrita. Nesse sentido, a maneira como você escreve e revisa no quadro-negro, por exemplo, pode colaborar para que a criança o tome como modelo e se familiarize com o procedimento. Sobre o assunto, Mirta Castedo escreve em sua tese de doutorado: "Os bons escritores adultos (...) são pessoas que pensam sobre o que vão escrever, colocam em palavras e voltam sobre o já produzido para julgar sua adequação. Mas, acima de tudo, não realizam as três ações (planejar, escrever e revisar) de maneira sucessiva: vão e voltam de umas a outras, desenvolvendo um complexo processo de transformação de seus conhecimentos em um texto".
A revisão em processo e a final são passos fundamentais para conseguir de fato uma boa escrita. Nesse sentido, a maneira como você escreve e revisa no quadro-negro, por exemplo, pode colaborar para que a criança o tome como modelo e se familiarize com o procedimento. Sobre o assunto, Mirta Castedo escreve em sua tese de doutorado: "Os bons escritores adultos (...) são pessoas que pensam sobre o que vão escrever, colocam em palavras e voltam sobre o já produzido para julgar sua adequação. Mas, acima de tudo, não realizam as três ações (planejar, escrever e revisar) de maneira sucessiva: vão e voltam de umas a outras, desenvolvendo um complexo processo de transformação de seus conhecimentos em um texto".
Ser autor exige pensar no enredo e na estrutura
O terceiro aspecto fundamental no trabalho de produção textual é garantir que a criança ganhe condições de pensar no todo. Do enredo à forma de estruturar os elementos no papel: é preciso aprender a dar conta de tudo para atingir o leitor. Esse processo denomina-se construção de um percurso de autoria e se adquire com tempo, prática e reflexão.
Os estudos em didática das práticas de linguagem fizeram cair por terra o pensamento de que a redação com tema livre estimula a criatividade. Hoje sabe-se que depois da alfabetização há ainda uma longa lista de aprendizagens. Foi considerando a complexidade desse processo que Edileuza Gomes dos Santos, professora da EM de Santo Amaro, no Recife, desenvolveu um projeto de produção de fábulas com a 3ª série.
Ela deu início ao trabalho investindo na ampliação do repertório dentro desse gênero literário. Só assim foi possível observar regularidades na estrutura discursiva e linguística, como o fato de que os animais são os protagonistas. "Escolhi esse gênero porque ele tem começo, meio e fim bem marcados, algo que eu queria desenvolver na produção da garotada."
A primeira proposta foi o reconto oral de uma fábula conhecida. "Isso envolve organizar ideias e pode ser uma forma de planejar a escrita", endossa Patricia Corsino, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando já dominamos todas as informações de uma narrativa, podemos focar apenas na forma de expor os elementos - mas esse é um grande desafio no início da escolaridade.
Na turma de Edileuza, as propostas seguintes foram a re-escrita individual e a produção de versões de fábulas conhecidas com modificações dos personagens ou do cenário. Aos poucos, todos ganharam condições de inventar situações. A professora percebeu que a turma não entendia bem o sentido da moral da história. Pediu, então, uma pesquisa sobre provérbios e seu uso cotidiano.
Com essa compreensão e um repertório de ditados populares, Edileuza sugeriu a criação de uma fábula individual. Ela discutiu com o grupo que elas geralmente têm como protagonistas inimigos tradicionais (cão e gato ou gato e rato, por exemplo). Estava colocada a primeira restrição para a produção. Em seguida, a classe relembrou alguns provérbios que poderiam ser escolhidos como moral nas histórias criadas.
Desde o início, todos sabiam que as produções seriam lidas por estudantes de outra escola, o que serviu de estímulo para bolar tramas envolventes. "Há uma diferença entre escrever textos com autonomia - obedecendo à estrutura do gênero, sem problemas ortográficos ou de coerência - e se tornar autor", diz Patrícia Corsino. "No primeiro caso, basta aprender as características do gênero e conhecer o enredo, por exemplo. No segundo, é preciso desenvolver ideias." Para chegar lá, a interação com professores e colegas e o acesso a um repertório literário são fundamentais.
Do 6º ao 9º ano, o processo de construção da autoria pode exigir desafios que sejam cada vez mais complexos: a elaboração de tensões na narrativa ou a participação em debates para desenvolver a argumentação, como fez a professora Maria Teresa, do Rio de Janeiro. "A re-escrita, primeiro passo para a construção da autoria, pode vir com propostas de produção de paródias, no caso dos maiores, que exigem mais elaboração por parte das turmas", diz Roxane Rojo. Uma boa forma de fazer circular textos nessa fase são os meios digitais, como blogs e a própria página do colégio na internet. Os jovens podem se responsabilizar por todas as etapas de produção, inclusive pela publicação, o que os estimula a aprimorar a escrita. Levar os estudantes a se expressar cada vez melhor, afinal, deve ser o objetivo de todo professor.
Os estudos em didática das práticas de linguagem fizeram cair por terra o pensamento de que a redação com tema livre estimula a criatividade. Hoje sabe-se que depois da alfabetização há ainda uma longa lista de aprendizagens. Foi considerando a complexidade desse processo que Edileuza Gomes dos Santos, professora da EM de Santo Amaro, no Recife, desenvolveu um projeto de produção de fábulas com a 3ª série.
Ela deu início ao trabalho investindo na ampliação do repertório dentro desse gênero literário. Só assim foi possível observar regularidades na estrutura discursiva e linguística, como o fato de que os animais são os protagonistas. "Escolhi esse gênero porque ele tem começo, meio e fim bem marcados, algo que eu queria desenvolver na produção da garotada."
A primeira proposta foi o reconto oral de uma fábula conhecida. "Isso envolve organizar ideias e pode ser uma forma de planejar a escrita", endossa Patricia Corsino, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando já dominamos todas as informações de uma narrativa, podemos focar apenas na forma de expor os elementos - mas esse é um grande desafio no início da escolaridade.
Na turma de Edileuza, as propostas seguintes foram a re-escrita individual e a produção de versões de fábulas conhecidas com modificações dos personagens ou do cenário. Aos poucos, todos ganharam condições de inventar situações. A professora percebeu que a turma não entendia bem o sentido da moral da história. Pediu, então, uma pesquisa sobre provérbios e seu uso cotidiano.
Com essa compreensão e um repertório de ditados populares, Edileuza sugeriu a criação de uma fábula individual. Ela discutiu com o grupo que elas geralmente têm como protagonistas inimigos tradicionais (cão e gato ou gato e rato, por exemplo). Estava colocada a primeira restrição para a produção. Em seguida, a classe relembrou alguns provérbios que poderiam ser escolhidos como moral nas histórias criadas.
Desde o início, todos sabiam que as produções seriam lidas por estudantes de outra escola, o que serviu de estímulo para bolar tramas envolventes. "Há uma diferença entre escrever textos com autonomia - obedecendo à estrutura do gênero, sem problemas ortográficos ou de coerência - e se tornar autor", diz Patrícia Corsino. "No primeiro caso, basta aprender as características do gênero e conhecer o enredo, por exemplo. No segundo, é preciso desenvolver ideias." Para chegar lá, a interação com professores e colegas e o acesso a um repertório literário são fundamentais.
Do 6º ao 9º ano, o processo de construção da autoria pode exigir desafios que sejam cada vez mais complexos: a elaboração de tensões na narrativa ou a participação em debates para desenvolver a argumentação, como fez a professora Maria Teresa, do Rio de Janeiro. "A re-escrita, primeiro passo para a construção da autoria, pode vir com propostas de produção de paródias, no caso dos maiores, que exigem mais elaboração por parte das turmas", diz Roxane Rojo. Uma boa forma de fazer circular textos nessa fase são os meios digitais, como blogs e a própria página do colégio na internet. Os jovens podem se responsabilizar por todas as etapas de produção, inclusive pela publicação, o que os estimula a aprimorar a escrita. Levar os estudantes a se expressar cada vez melhor, afinal, deve ser o objetivo de todo professor.
Expectativas de aprendizagem de escrita
No que se refere à escrita, é importante que, no fim do 5º ano, o aluno saiba:
- Re-escrever e/ou produzir textos de autoria utilizando procedimentos de escritor: planejar o que vai escrever considerando a intencionalidade, o interlocutor, o portador e as características do gênero; fazer rascunhos; reler o que está escrevendo, tanto para controlar a progressão temática como para melhorar outros aspectos - discursivos ou notacionais - do texto.
- Revisar escritas (próprias e de outros), em parceria com os colegas, assumindo o ponto de vista do leitor com intenção de evitar repetições desnecessárias (por meio de substituição ou uso de recursos da pontuação); evitar ambiguidades, articular partes do texto, garantir a concordância verbal e a nominal.
- Revisar textos (próprios e de outros) do ponto de vista ortográfico.
Ao concluir o 9º ano, o estudante precisa estar apto também a:
- Compreender e produzir uma variedade de textos, tendo em conta os padrões que os organizam e seus contextos de produção e recepção.
- Utilizar todos os conhecimentos gramaticais, normativos e ortográficos em função da otimização de suas práticas sociais de linguagem.
- Exercer sobre suas produções e interpretações uma tarefa de monitoramento e controle constantes.
- Interpretar e produzir textos para responder às demandas da vida social enquanto cidadão.
Fonte: Secretaria de Estado de Educação de São Paulo e Diseño Curricular de la Educación Secundaria da Província de Buenos Aires, Argentina
Quer saber mais?
BIBLIOGRAFIA
Aprendendo a Escrever, Ana Teberosky, 200 págs., Ed. Ática, tel. (11) 3346-3000, 43,90 reais
Estética da Criação Verbal - Teoria e Crítica Literária, Mikhail Bakhtin, 512 págs., Ed. Martins Fontes, tel. (11) 3241-3677, 73,30 reais
Ler e Escrever na Escola - O Real, o Possível e o Necessário, Delia Lerner, 128 págs., Ed. Artmed,
tel. 0800-703-3444, 36 reais
Ortografia: Ensinar e Aprender, Artur Gomes de Morais, 128 págs., Ed. Ática, 36,90 reais
Aprendendo a Escrever, Ana Teberosky, 200 págs., Ed. Ática, tel. (11) 3346-3000, 43,90 reais
Estética da Criação Verbal - Teoria e Crítica Literária, Mikhail Bakhtin, 512 págs., Ed. Martins Fontes, tel. (11) 3241-3677, 73,30 reais
Ler e Escrever na Escola - O Real, o Possível e o Necessário, Delia Lerner, 128 págs., Ed. Artmed,
tel. 0800-703-3444, 36 reais
Ortografia: Ensinar e Aprender, Artur Gomes de Morais, 128 págs., Ed. Ática, 36,90 reais
Fonte: novaescola.org.br
ENTREVISTA COM A PROFESSORA MAGDA SOARES
16:22
 |
| Novo livro de Magda Soares atravessa quase seis décadas de reflexão sobre a alfabetização | © Gustavo Morita |
Em 2009, ao identificar a carência de materiais em formato de revista para formadores de alfabetizadores, fui a Belo Horizonte propor à professora Magda Becker Soares, a quem já havia entrevistado algumas vezes, que coordenasse dois números especiais sobre o tema para a revista Educação.
Depois de uma reunião de uma hora e meia com docentes do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale), da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, órgão criado por ela, havíamos discutido, desenhado, dividido em capítulos e listado autores para os dois números. Magda, então, foi a voz que enfatizou a importância da parceria entre Ceale, que faria 25 anos em 2010, e Editora Segmento. Depois disso, passou a bola para as professoras Aparecida Paiva e Sara Mourão darem continuidade ao projeto por parte do Ceale.
Ela própria, ainda que tenha participado com um artigo, estava com a mente voltada a um projeto que iria ocupá-la a partir de 2011: a escrita de um livro que mergulhasse em toda sua trajetória intelectual relativa ao entendimento da faceta linguística na inserção do mundo da escrita. Traduza-se por isso o processo de alfabetização, objeto de aprendizagem a que dedicou a vida, desde antes de formar-se em letras neolatinas pela mesma UFMG, em 1954.
Ainda que sua visão sobre a entrada no mundo letrado seja bem mais ampla do que a questão específica da alfabetização – Magda é a introdutora no Brasil do conceito de literacy, o letramento – o tema, em razão do renitente insucesso da educação pública brasileira, remanesceu quase como que uma obsessão para ela.
Quem sabe, objeto de uma nova obra com a assinatura desta intelectual cuja marca principal parece ser a generosidade. E que continua mais ativa do que nunca aos 84 anos. Numa tarde agradável no início de agosto, ela nos recebeu em sua casa, em Belo Horizonte.
Como nasceu sua preocupação com a questão da alfabetização?
Durante toda a educação básica – primário, ginásio e científico (queria ir para a área de ciências exatas), estudei em escola privada, protestante, metodista. Depois fiz curso de letras e fui dar aula em escola pública, para o ginásio. Levei um susto terrível. Senti na pele a distância que havia entre a escola em que eu tinha estudado e onde dava aulas agora, a diferença de condições, professores, sobretudo de relação dos professores com os alunos. Esse momento representou um rito de passagem na minha vida. Daí em diante, passei a vida por conta da escola pública.
Deixei o ensino básico e fui para a universidade, com dedicação exclusiva, o que às vezes é mais um malefício do que um benefício para quem está formando professores. Você forma professores para uma escola da qual está distante, que conhece só pela pesquisa. Mas fiz e orientei pesquisas sobre a língua, sobre problemas de linguagem na escola pública. E fui me convencendo cada vez mais que a questão era o começo da história, a fase de entrada da criança no que podemos chamar de cultura da escrita. E acabei me voltando para essa área inicial.
Quando foi isso?
Comecei a dar aulas um ano antes de me formar, em 1953, dava aulas para ginásio ou em formação de professoras do curso normal. Só fui entrar na universidade em 1960. Fiquei até me aposentar, na véspera de fazer 70 anos. A moça da secretaria me disse que eu já poderia ter me aposentado dez anos antes. Eu disse: “quem falou que eu queria?”.
Nesse período todo, fiquei preocupada com a questão da aprendizagem da língua escrita pelas crianças. Inicialmente, trabalhava só com o curso de letras, depois quis trabalhar também com pedagogia, na disciplina de alfabetização, que conseguimos introduzir. Antes dela, havia na pedagogia uma metodologia da língua portuguesa, um semestre só. Assim, ficamos mais perto de quem ia para a sala de aula na escola pública. Aí veio um interesse grande em alfabetização. Esse livro de agora é resultado disso.
Como sempre fui muito obsessiva por leitura, por estudar, estava sempre a par do que se produzia aqui e no exterior. Ao mesmo tempo, acompanhava o fracasso na alfabetização neste país, que é algo que não se vence nunca.Comecei a ficar impressionada.
É consenso que o professor de qualquer disciplina tem de saber o conteúdo para poder ensiná-lo. Tem de saber história para ensinar história, tem de saber geografia para ensinar geografia, ciências para ensinar ciências. Para alfabetizar, é como se não houvesse algo que se tem de saber. É como se a pessoa, sabendo ler e escrever, soubesse automaticamente alfabetizar. O que não faz sentido.
Na minha visão de linguista, pensava que a língua escrita é um sistema de representação extremamente complexo e que demanda de uma criança de 5, 6, 7, 8 anos habilidades cognitivas muito complexas também, pois trata do entendimento de um sistema de representação bastante abstrato. É preciso representar os sons com sinaizinhos na página, os chamados grafemas, sinais que são também arbitrários. Por que um desenho de B vai representar o fonema |B|? Ou seja, o objeto em si é complicado. E, portanto, as habilidades cognitivas que a criança precisa para compreender e dominar esse sistema são também complexas e dependem do processo de desenvolvimento dela.
E o preparo para isso…
No próprio curso de pedagogia, ninguém acha importante discutir essas coisas com quem vai alfabetizar. É algo que me tomou anos. Há muita leitura nesse livro, tudo para que eu pudesse entender bem o processo de aprendizado da língua escrita dos pontos de vista da psicologia cognitiva, da linguística, da sociolinguística, enfim, de várias áreas de conhecimento.
E depois tem o fato de os psicólogos do desenvolvimento terem começado a se preocupar com isso há pouco tempo, como os linguistas que começaram nos anos 70, outro dia mesmo. Cada um analisando seu pedaço, daí o nome das facetas. Porque você aprende a codificar e decodificar a língua escrita [parte da faceta linguística], para fazer alguma coisa com isso, interagir com outros por meio da escrita nas situações em que a escrita é a forma de comunicação [faceta interativa]. E tudo isso dentro de um contexto cultural que tem lá suas ideias sobre a escrita, a utiliza com determinadas funções, exige isso e aquilo das pessoas, que é a terceira faceta [sociocultural].
Essa ideia das facetas começou lá atrás num artigo que publiquei em 1960 mais ou menos, em que já discutia isso. Estávamos numa fase, que vai até os anos 70, 80 em que se discutia o fracasso escolar. Quantos meninos eram reprovados no primeiro ano ou evadiam, saíam da escola porque não aprendiam a ler ou escrever? Toda vez que saía estatística era isso.
Hoje continuamos no mesmo sistema… quantos chegam lá na frente sem aprender a ler? Mas já achava que era mais complexo do que isso. A vantagem que levei foi ter sido formada em letras, e não em pedagogia. A alfabetização sempre foi entendida como um problema de pedagogo. Até hoje ainda há muito disso. E é, mas não só. É também da psicologia, da linguística e de todas as ciências linguísticas.
Quais são os maiores entraves para a alfabetização?
Pensando com os pés no chão – linha mestra do livro – é que sempre se pensou a alfabetização em termos de método. Lá em Lagoa Santa [município mineiro em que coordena o Núcleo de Alfabetização e Letramento, que faz formação continuada com as professoras da rede local], cujo processo é uma didatização do que está nesse livro, as pessoas vão nos visitar e a primeira pergunta que fazem é: “que método vocês usam na alfabetização?”. Como se a alfabetização fosse uma questão de método. E sempre foi assim.
O que você tinha de bibliografia na área de alfabetização era a defesa de um ou outro método, disputas, desentendimentos em torno de como ensinar. Mas sem pensar em como ensinar o que e para quem. Quem aprende o quê? Sem pensar que é um objeto linguístico que uma criança em fase de desenvolvimento enfrenta e dele se apropria. A questão é fundamental. Isso explica esse reiterado fracasso em alfabetização, que data de quando houve a democratização do ensino, porque as camadas populares entravam na escola e não aprendiam a ler e escrever. Esse fracasso só mudou de figura. Antes era a reprovação e a evasão.
Temos uma bibliografia estatística bastante grande desse período, sobretudo dos anos 70, que mostrava quantos alunos eram reprovados a cada ano. A taxa de reprovação da alfabetização era sempre alta do 1o para o 2o ano, pois ainda havia essa ideia de que o menino tinha de ser alfabetizado do 1o para o 2o ano. A gente tinha classes de alfabetização, o que expressa o desconhecimento do que é esse processo, achar que você alfabetiza uma criança em um ano.
Depois, quando vieram os ciclos, começou a reprovação no fim do ciclo. Resolveram que não pode reprovar no fim do ciclo, então o menino chega ao 6º ano, 7º ano semialfabetizado. Quer dizer, o fracasso, antes concentrado numa série inicial, atualmente se dilui ao longo do ensino básico. E até hoje está assim por quê? Porque continuamos discutindo método, sem entender o processo, como se se pudesse achar de repente um método que fosse uma varinha de condão, uma receita.
O livro descreve bem as polarizações no campo, desde a pendenga entre sintéticos e analíticos no início do século 20, até a mais recente, entre fônicos e construtivistas, uns sempre negando os outros, ideologizando o olhar. É uma espécie de Guerra Fria?
Sim, tanto que nos Estados Unidos isso foi chamado de Reading Wars, as Guerras da Leitura (eles chamam a alfabetização de reading), o que ainda hoje se comenta. Era a guerra entre phonics e whole language, na linha do nosso construtivismo, com a concepção de que a criança aprende por si mesma, de que aprender a escrita é a mesma coisa que aprender a língua oral. O que é uma coisa absolutamente sem sentido, pois já se sabe há tempos que a língua oral é inata e a escrita é cultural. Essa ideia é subjacente a esse grupo da whole language e ao nosso construtivismo. E isso não se sustenta mais cientificamente.
Como você interpreta essa disputa?
As pessoas disputam métodos, e não os fundamentos dos métodos, pois é importante vencer a guerra dos métodos, porque você vence social, cultural e comercialmente em uma sociedade. Isso é o que justifica a guerra, essa posição de que é “isso ou aquilo”, quando, na verdade, é isso e aquilo.
No estudo da alfabetização como processo cognitivo num quadro de desenvolvimento e do objeto que é a língua escrita, vê-se que a criança precisa, sim, aprender as relações fonema/grafema. A perspectiva fonológica deixa isso muito claro. Se você escreve registrando o som, claro que a criança tem de perceber o som e compreender que quando se escreve não se escreve a coisa em si, mas o som com que você se refere à coisa. Então, o processo de relação fonema/grafema está implícito, presente, quer queira, quer não.
Está presente no construtivismo, pois se a criança vai descobrindo, se apropriando da língua escrita, de acordo com a terminologia do construtivismo, o que é essa apropriação? É descobrir essa relação fonema/grafema, grafema/fonema. Só que o fônico faz isso de forma sistemática, porque cai num método. E o construtivismo não faz isso de forma sistemática porque resolve sistematizar outras coisas, como o convívio da criança com a escrita etc.
Então é isto e aquilo. Não há como reduzir a complexidade do processo a um método, se você entende método como modo de agir alicerçado em fundamentos teóricos. No caso da alfabetização, fundamentos psicológicos – psicologia do desenvolvimento, cognitiva, no que se refere à criança – e fonologia, psicolinguística, sociolinguística, no que se refere ao objeto.
Pode haver vários métodos que funcionem ao mesmo tempo. Isso me incomodou o tempo todo porque foi no correr do livro que fui vendo o que diria a respeito da questão dos métodos, proposta no título. A ideia primeira era de que não se deve procurar um método, mas vários métodos. Aí comecei a pensar, e esse último capítulo [Métodos de alfabetização: uma resposta à questão] me deu muito trabalho. Desde o início pensei que a conclusão a que eu ia chegar para resolvê-la não era chegar dizendo “é só colocar isso no plural”. Você tem uma forma de orientar a criança para levá-la a relacionar o oral com o escrito; outra forma quando pretende desenvolver o conceito de palavra etc. Cada forma de um jeito. É preciso ter vários métodos para alfabetizar. De forma um pouco mais genérica, cada faceta é um método diferente.
Nesse aspecto, é interessante a ideia dos pesquisadores Spiro e DeSchryver, citada no livro, de que o ensino explícito é adequado em áreas do conhecimento bem estruturadas, isto é, aquelas em que é possível delimitar informações, conceitos e processos que o aluno deve aprender.
As alfabetizadoras são muito espertas, porque a maior parte delas, quando você vai pesquisar quais métodos de alfabetização são usados em sala de aula, dizem que misturam vários métodos, usam “métodos ecléticos”. É uma resposta inteligente, pois já perceberam que cada método tem a sua contribuição a dar.
Em alguns casos, você tem um ensino mais direto, explícito. Se quiser, pode deixar na visão construtivista, para a criança adivinhar, descobrir de tanto mexer com a escrita. Mas não é justo com ela. É algo construído culturalmente, que você vai ensinar a ela. Isso não quer dizer que ela tenha de ficar fazendo aqueles exercícios de método fônico, mas deve ter um ensino explícito. Ao mesmo tempo, isso pode ser acompanhado de elementos do construtivismo, como o convívio com material escrito, conhecendo diferentes portadores da escrita e gêneros textuais. Aí, não se trata de ensino explícito, e sim de ensino indireto, com a criança envolvida nesse mundo da escrita. É como se esse objeto “língua escrita” fosse composto de vários subobjetos, cada um com sua peculiaridade, exigindo determinadas habilidades e processos cognitivos da criança, que têm de acompanhar o processo de desenvolvimento dela, sem dar saltos.
E também não pode retroceder, que é o que muitos têm feito quando negam à criança o início da alfabetização na educação infantil. O único jeito de uma pessoa alfabetizar conscientemente, sabendo o que está acontecendo com a criança, que hipóteses ela está fazendo, que interferência fazer em cada momento, é saber que estratégia usar. Essa construção de hipóteses é coisa do construtivismo, só que no construtivismo a criança vai fazendo hipóteses e você vai dando a ela outras experiências para ela desmanchar essa hipótese, substituí-la. Por que não clarear as coisas explicitamente para a criança?
Até porque há crianças que, por diversos motivos, não querem formular hipóteses…
Tem um caso engraçado numa pesquisa de uma orientada minha, que relata a história de uma menina de uma escola construtivista, onde pediam para ela escrever alguma coisa na atividade de casa. Ela perguntava como escrever para a mãe, que tinha participado da reunião de pais na escola e havia recebido a orientação de responder que ela deveria escrever como achava que era. A menina perguntava e a mãe respondia: “escreve do jeito que você acha que é”. E a menina: “Não, me fala só essa letra, se é essa ou é essa”. E a mãe: “escreve do jeito que você acha que é”. Até que a menina falou: “Acho que isso é um segredo, né?” (risos). É a tal história, o adulto fica escondendo da criança o que você pode dizer para ajudá-la a descobrir com a sua orientação explícita.
Qual a importância da memória no processo de aquisição da linguagem oral e escrita?
Nesse processo inicial de alfabetização é muito forte, porque é um sistema de representação. Há quem chame de re-representação, pois a oralidade já é uma forma de representação.
Este objeto, por exemplo, que é o real: ponho isso numa representação de sons que é “gravador” e depois é preciso pegar essa sequência de sons e colocar numa outra representação que é visível. Ou seja, tenho de passar da oralidade para a visibilidade, pois a língua escrita é a língua tornada visível.
Como se trata de um sistema de representação abstrato, pois não representa a coisa em si, como faz o desenho, a memória é fundamental. No caso do nome da criança, por onde todos começam por ter um sentido para ela, a criança memoriza as letras de seu nome. Quando você quer que ela comece a reconhecer o nome dos colegas, ela memoriza. Isso é que a vai levando, aos poucos, a entender que é um processo de representação.
Que você pode fazer de forma mais fácil e leve para a criança, de forma mais direta. Mas para relacionar letra com som, é só pela memória. Outra coisa mal trabalhada na alfabetização é que colocam um alfabeto lá e dizem “essas são as letras”. Dão inclusive alfabeto móvel para a criança mexer. Mas é difícil para ela criar a ligação entre aquelas linhas e curvas com os sons, confundem muito. Qualquer um que mexe com alfabetização sabe disso, ainda mais letras muito próximas, com pequenas assimetrias, como p e b. Uma diferença de posição muda a própria letra, a correspondência de sons.
Só a memória vai fazer a criança gravar que esse p é diferente desse d, embora tenha havido uma virada, ou que o p é diferente do b, outra pequena virada. É preciso conhecer a psicologia da memória, o que é memória de curta de duração. Tem gente que fala: “Ah, mas esse menino não aprende de jeito nenhum, a gente ensina hoje, na semana que vem ele já esqueceu”. Ora, há uma memória de curta duração que você precisa transformar numa memória de longa duração. Na alfabetização, isso acontece muito.
Há, por parte de uma corrente ligada ao construtivismo uma ojeriza à sílaba? Por quê?
A sílaba é ponto crítico da alfabetização. No próprio construtivismo, enquanto a criança não chega à fase chamada de silábica, não se alfabetiza. O trabalho todo tem de ser feito para ela perceber a sílaba, pois ela não percebe o fonema.Só consegue perceber o fonema quando faz o contraste entre uma sílaba e outra. Isso é outra coisa que revela a falta de fundamento linguístico do método fônico, que acha que você pode ensinar os fonemas.
Nos Estados Unidos, eles usam muito isso. Ainda hoje recebi um livro falando da importância de avaliar se a criança está relacionando a letra com o fonema que ela representa, pedindo, por exemplo, que ela fale vaca separando cada pedacinho. A criança fala sempre va-ca. Eles pedem pedacinho menor. Como eles vão falar o som do v e do c? Quando você põe va-ca e fa-ca, ela percebe a diferença, mas a realidade concreta não está na diferença sonora. Daí a importância da sílaba, é pelo contraste que a criança identifica – no sentido que discuto no livro, de ver que é idem, igual. Quando eu falo fa, fi, há uma identidade no fonema inicial, aí é que ela percebe. Não tem jeito: se não passar pela sílaba não vai.
Mas por que a rejeição?
Reclamam do método silábico. Que é que tem? Qualquer livro de linguística, de fonologia mostra que o elemento básico da corrente fonológica, perceptível, identificável, é a sílaba. Essa rejeição é um dogma. Na alfabetização estamos muito sujeitos a dogmas. Duas coisas que prejudicam são esse dogmatismo e outra, do pessoal do fônico, de buscar solução para a nossa alfabetização em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, com ortografia completamente diferente.
Por isso trabalhei um capítulo sobre a questão da ortografia, para que enxerguem como ela influencia o processo de alfabetização. Seria ótimo se pudéssemos imitar os finlandeses, pois na língua deles cada fonema é uma letra, cada letra um fonema, não tem discussão, é uma língua com a ortografia muito transparente.
Como esses dogmas estão prejudicando a educação infantil?
Infelizmente, muita gente acha um pecado mortal mexer com alfabetização na educação infantil, como se a criança não estivesse convivendo com a língua escrita desde praticamente o momento em que nasce.
É preciso respeitar o desenvolvimento da criança. O povo da educação infantil está respeitando o desenvolvimento de uma criança do século 19, não o da criança de hoje, que já nasce imersa num contexto gráfico, da escrita. E é para começar na hora certa.
Por exemplo, a percepção de que a palavra é som deve ser trabalhada na educação infantil, pois a criança está pronta para fazer isso. É uma coisa lúdica, de cantar parlendas etc. O que a educação infantil não tem feito é, quando a criança está falando uma parlenda com rima, escrever para ela essas palavras com terminação igual e apontar isso. Aí, ela já começaria a ver que a letra representa um som, quando isso é igual etc. Enfim, vários procedimentos para a criança já ir fazendo essa relação. Ela pode dar conta disso e pode ser feito de forma lúdica.Ajuda muito a alfabetização, principalmente nessa perspectiva de alfabetização na idade certa.
Se a idade certa for 8 anos, algo arbitrário, não dá tempo se começar aos 6 anos. E a criança está pronta para esse processo antes disso. Há equívoco na compreensão. Acham que deve trabalhar apenas literatura infantil, o contato com o livro, numa linha muito construtivista. Ler para a criança, deixá-la folhear o livro, coisas obviamente muito importantes. Mas, com base nisso, por que já não chamar atenção para o fato de que o que está escrito no livro é o que está sendo falado? É estranho o pessoal achar que o desenvolvimento se faz por etapas estanques, aqui acaba uma coisa e começa outra. Nenhum desenvolvimento é assim, é um processo contínuo, que começa na creche. Em Lagoa Santa, na creche já estamos trabalhando historinha com os meninos, fazendo-os reconhecer figuras e mostrando, por exemplo, a imagem e a palavra do lobo.
A aquisição da consciência metalinguística é a porta de entrada para o pensamento complexo?
É o que está na base da aprendizagem da língua, não só na alfabetização, mas em todo o processo. Para produzir um texto, você tem de ter consciência metalinguística, tem de ser capaz de olhar a língua. Quando escreve um texto, você pode falar o texto. Mas na hora de escrevê-lo há certas convenções, tem de ter consciência sobre a língua para produzi-lo, fazer uma leitura, interpretar. E na alfabetização, para transformar o oral no escrito. O metalinguístico é fundamental.
O livro trata de forma minuciosa a questão da transparência e da opacidade linguística. A opacidade de línguas como o inglês, por exigir maior esforço da criança no processo de identificação das relações fonema/grafema, propicia maior consciência ao aprendiz?
Com certeza, uma ortografia opaca como a do inglês exige muito mais da memória do que uma transparente. Por causa disso, talvez o menino que aprende o inglês desenvolva mais a consciência metalinguística, pois tem sempre de estar fazendo associações. Para ensinar o inglês para crianças, eles usam muito as analogias, morfemas, a consciência morfológica. Que para nós serve quase exclusivamente para a ortografia, para a aprendizagem de regras ortográficas. Para o inglês aprender a ler tem de trabalhar muito com a morfologia da língua, para suprir a opacidade das relações fonema/grafema. Então, por hipótese, acho que deve exigir mais consciência metalinguística deles do que dos nossos. Mas não sei se isso resulta em um benefício para eles.
Depois da alfabetização, para produção de leitura e produção de texto, quanto mais desenvolvida a consciência metalinguística, melhor leitor e melhor produtor de texto será a pessoa. Uma coisa é a pessoa que lê e não vê as entrelinhas, não tira inferências, que são habilidades metalinguísticas. Enfim, são coisas muito complicadas para serem tratadas de um modo ingênuo como tem sido feito.
Quais devem ser os principais beneficiários do livro?
Não foi um livro que escrevi para resolver o problema da professora na sala de aula. Eu gostaria que todos que formam alfabetizadores tivessem esses conhecimentos e fundamentos para que o alfabetizador ou alfabetizadora seja uma pessoa que conhece o processo da criança e conhece o objeto, saiba relacionar uma coisa com outra, saiba o que fazer. É o que chamei de alfabetização com método, e não método de alfabetização. Uma alfabetização baseada em fundamentos que fazem você entender o processo e, portanto, permitem saber como agir, quando ser mais ou menos diretivo; entender o que está acontecendo com a criança quando ela está com dificuldade, o que fazer. Minha intenção, ao fazer tantas leituras e tentar sistematizar isso para mim mesma – e uma vez isso feito, ter a vontade de socializar para quem trabalha com alfabetização –, é que avancemos nesse campo, não fiquemos discutindo se é esse ou aquele método.
Fonte: revistaeducacao.com.br | RUBEM BARROS , 18 DE OUTUBRO DE 2016
Assinar:
Postagens (Atom)





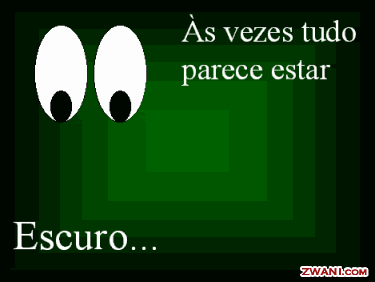















































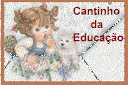




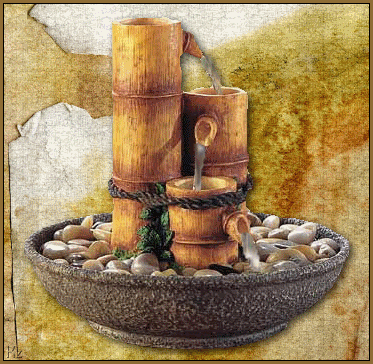





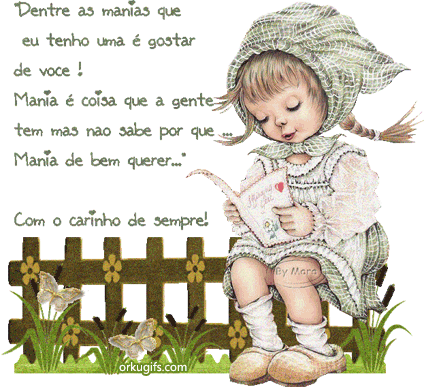

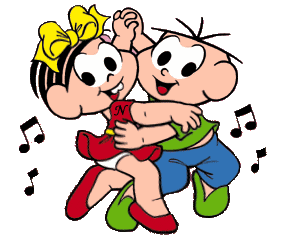


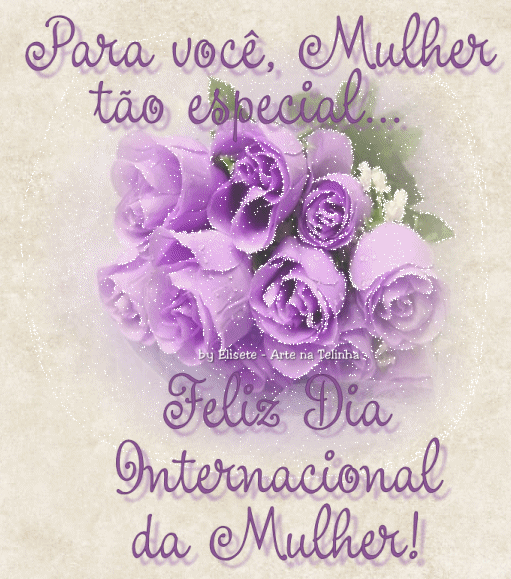







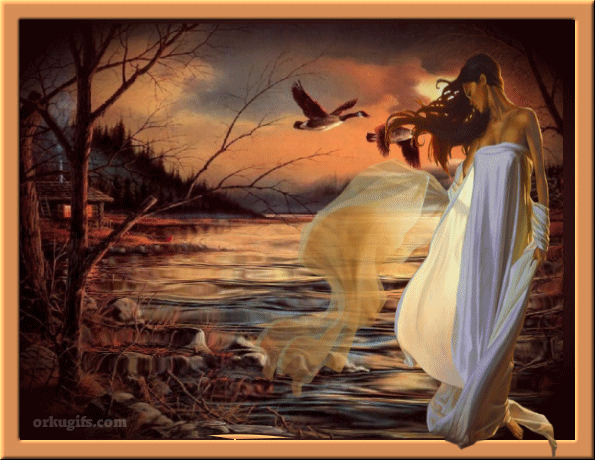


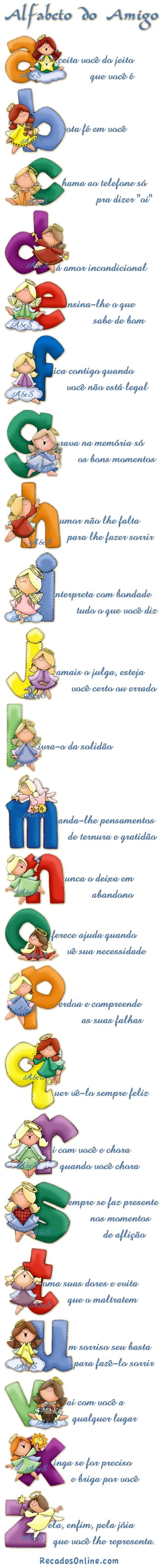
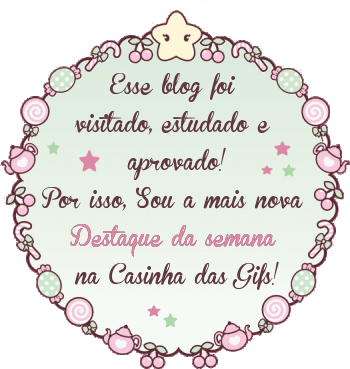






_3353.gif)
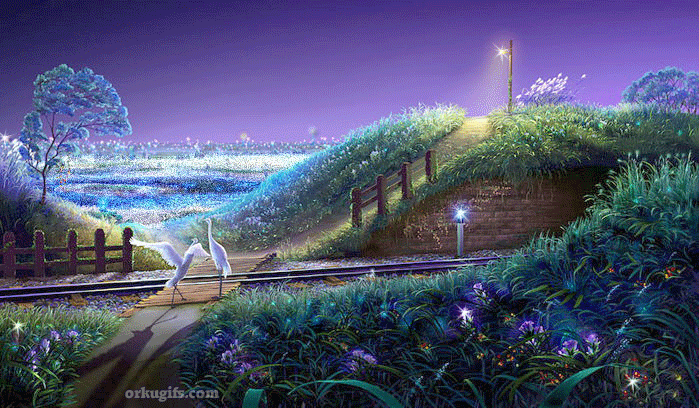


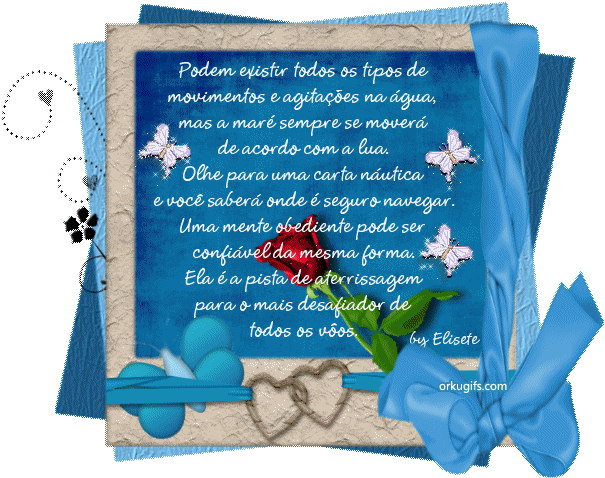
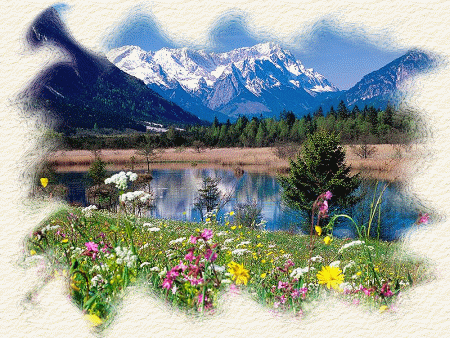







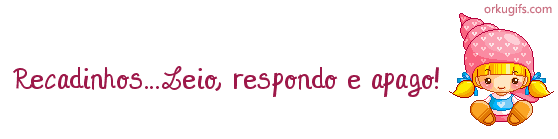



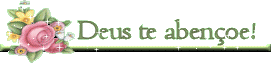























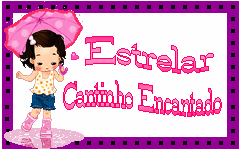
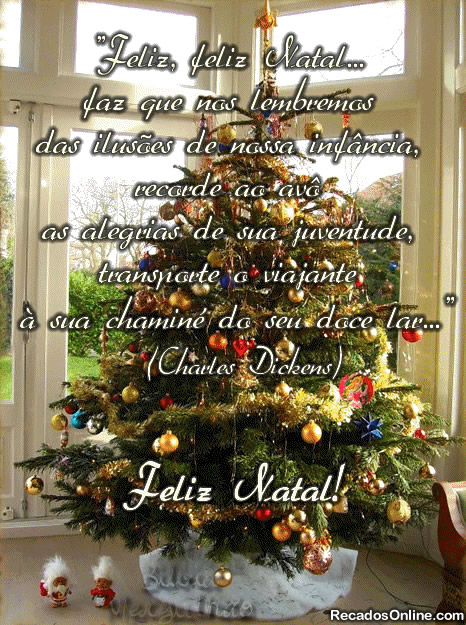






















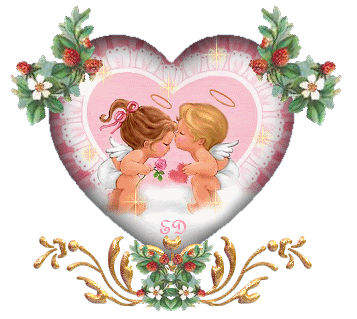







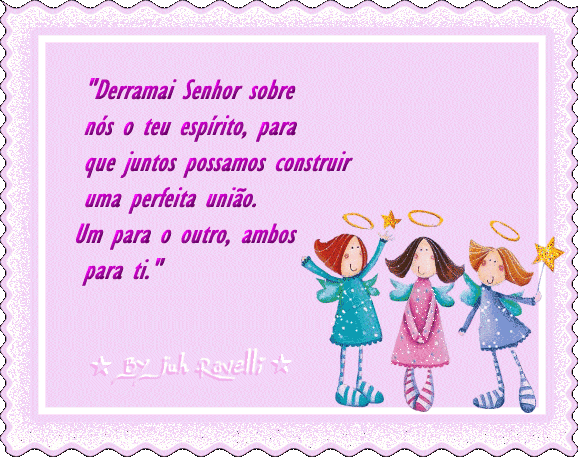

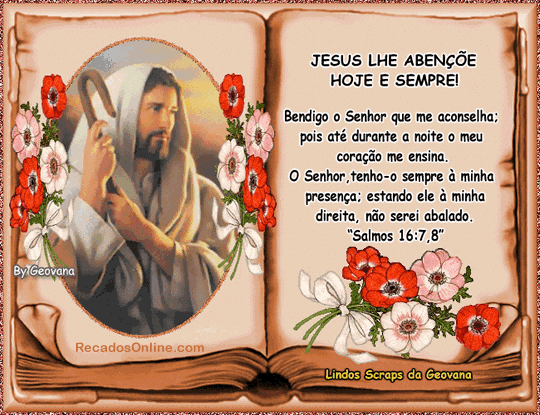








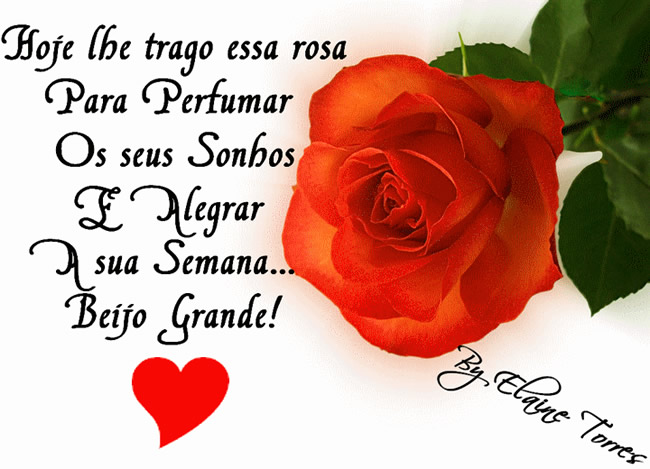

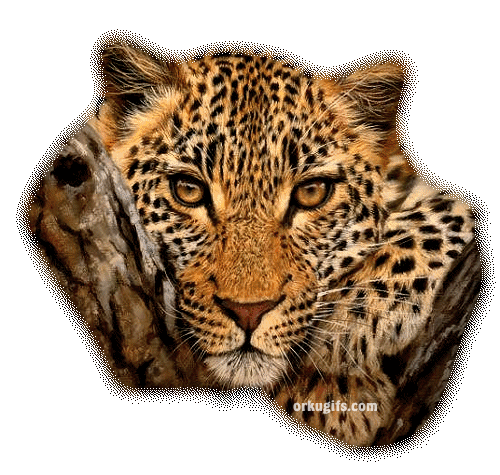







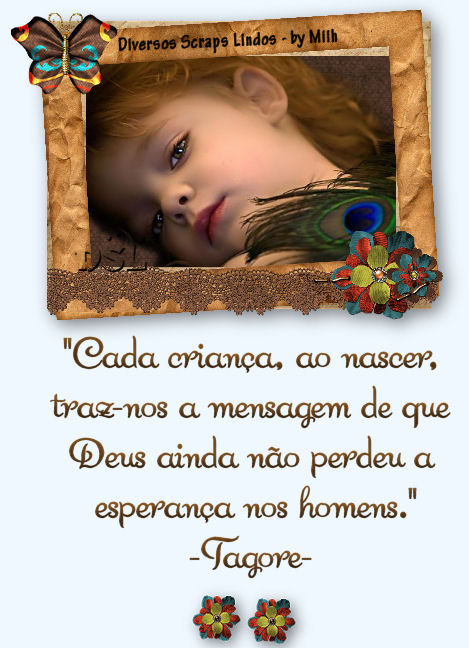

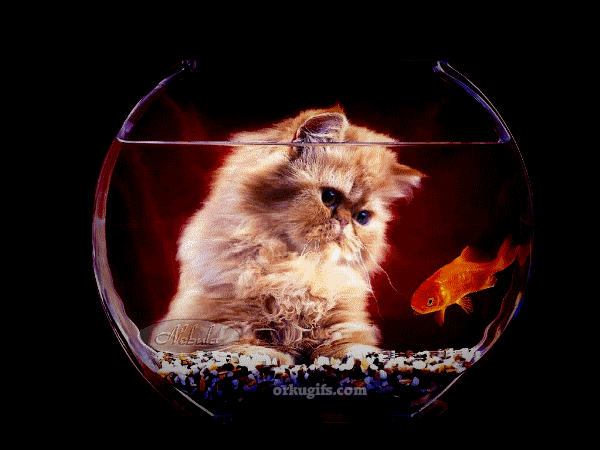

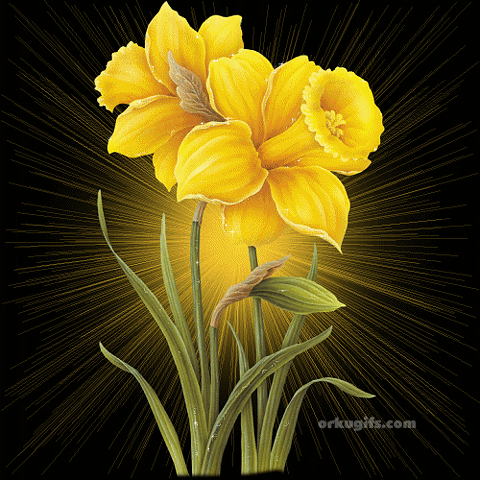

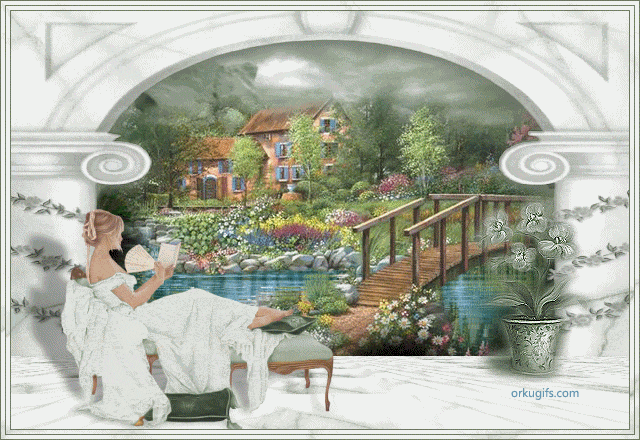


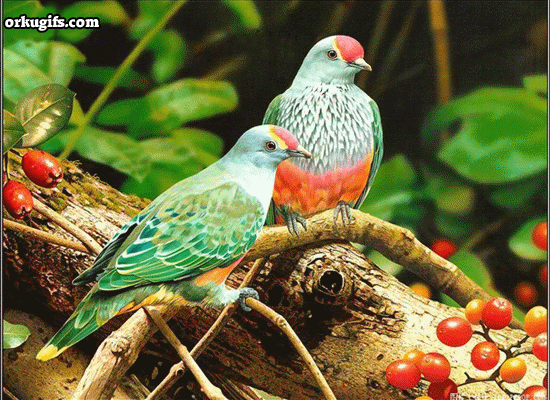

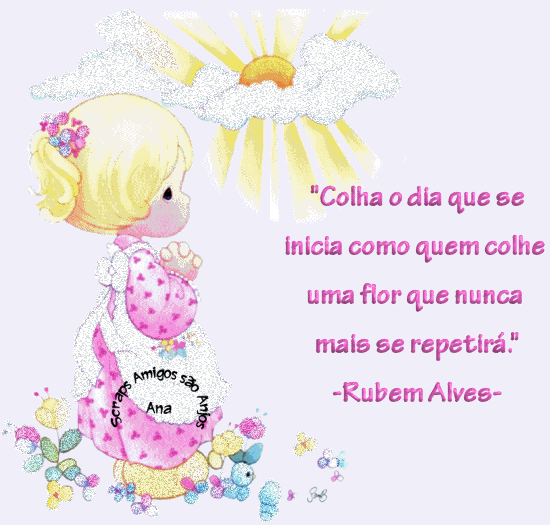



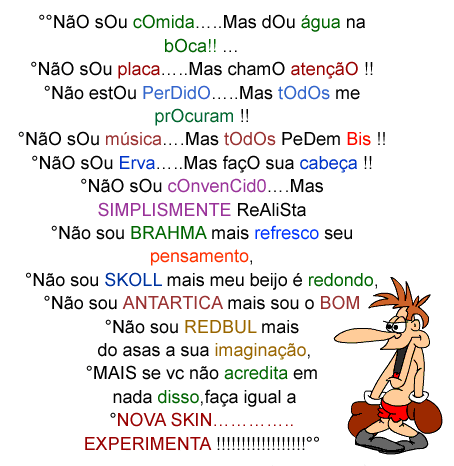
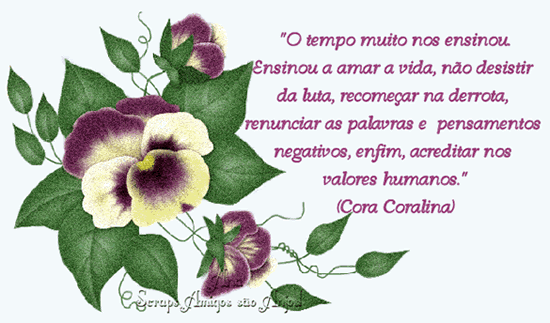

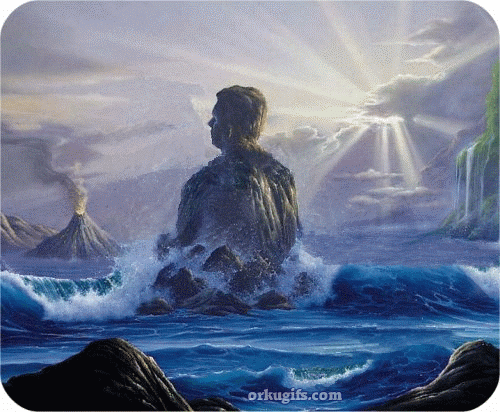



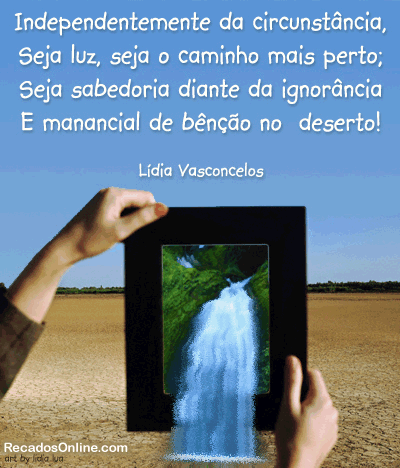



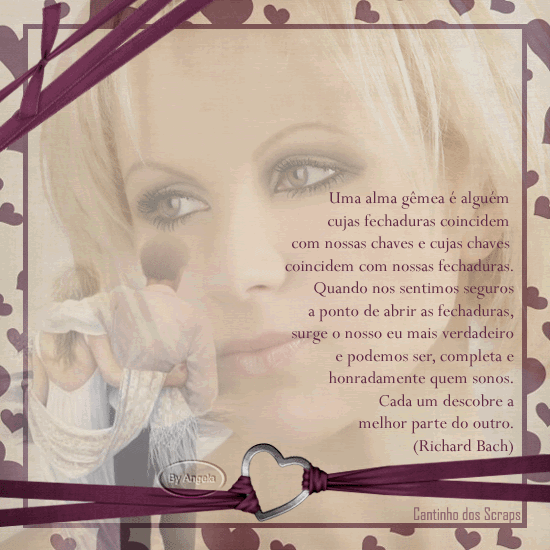


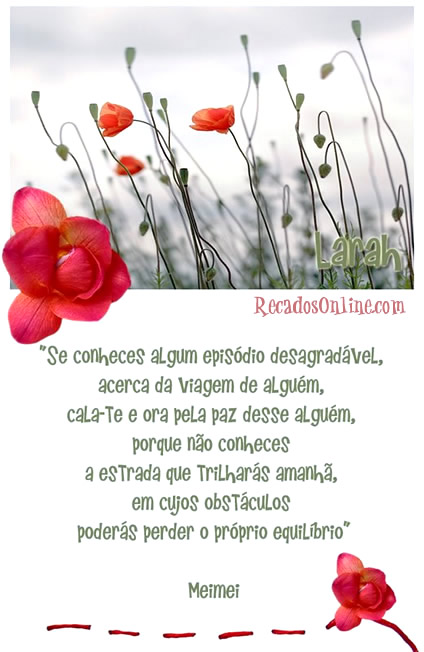

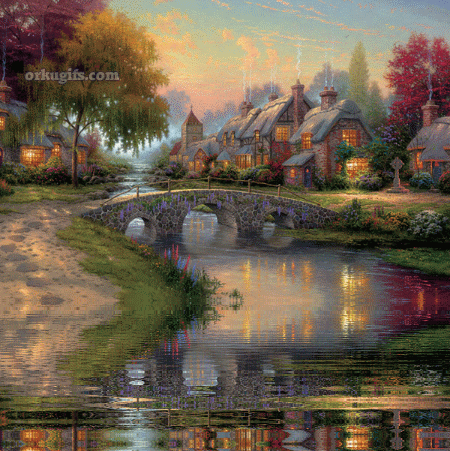




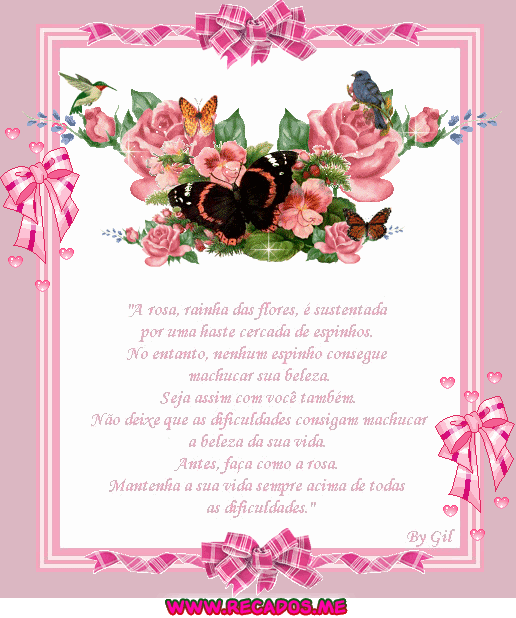
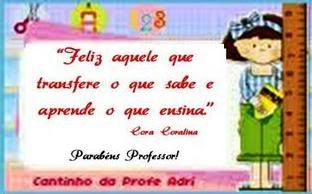










.jpg)





.jpg)






















 Visitas
Visitas